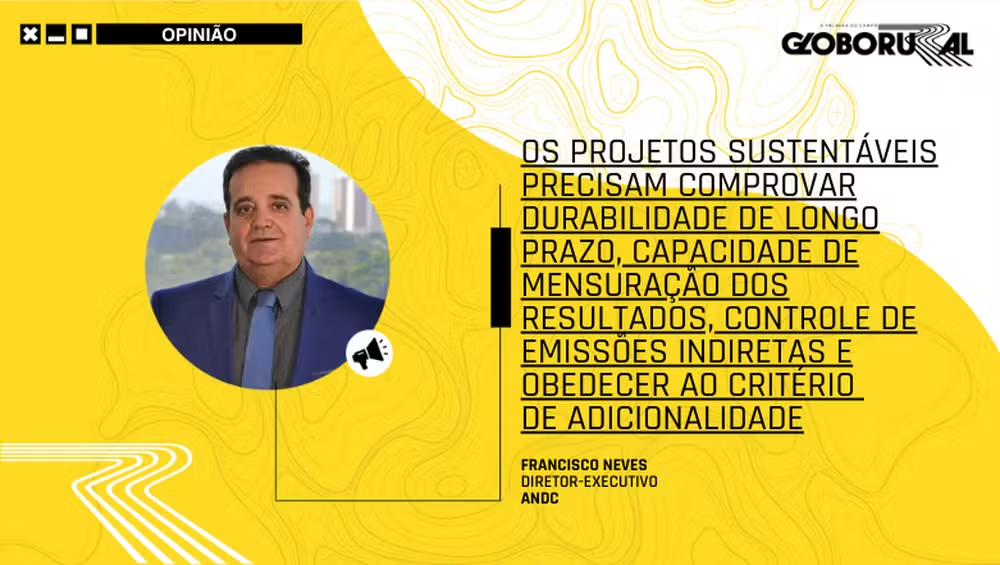O RenovaBio, apesar de ser uma política pública fundamental para a descarbonização da matriz de transportes brasileira e alinhada aos compromissos ambientais do país, enfrenta sérias contestações quanto à sua implementação, que tem gerado distorções significativas, além de afrontar princípios constitucionais. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.596/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, busca precisamente a verificação da constitucionalidade de diversos artigos da Lei nº 13.576/2017 e dispositivos correlatos (Decreto nº 9.888/2019, Resolução ANP nº 791/2019 e Portaria Normativa nº 56/GM/MME).
A problemática central reside na imposição de obrigações inconstitucionais, particularmente à aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOs), que, segundo o argumento da ADI, ferem princípios como a livre iniciativa, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia e o princípio do poluidor-pagador. A ação visa demonstrar que, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, tais dispositivos podem afetar a concorrência, a curto e médio prazos, levando à eliminação de um número expressivo de empresas distribuidoras de combustíveis devido ao impacto econômico-financeiro, além de desestimular a redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), contrariando o próprio espírito da Lei 13.576/2017.
A petição inicial da ADI supracitada detalha diversas violações e impactos decorrentes da legislação questionada:
1. Isonomia e livre concorrência (artigos 5º, caput, e 170 da CF/88): A obrigação de aquisição de CBIOs é atribuída a um único segmento da cadeia produtiva – as distribuidoras de combustível –, gerando um ônus desproporcional e um desequilíbrio concorrencial. Isso favorece a concentração de mercado nas mãos de grandes distribuidoras e pode levar à exclusão de empresas de médio e pequeno porte.
2. Proporcionalidade e razoabilidade: A previsão de penalidades desmesuradas, que podem chegar a R$ 500 milhões, é considerada confiscatória e desproporcional, comprometendo a sustentabilidade financeira das empresas afetadas. Há, ainda, dupla penalidade com multas pecuniárias e a proibição de comercialização e importação para distribuidoras inadimplentes.
3. Princípio do poluidor-pagador (artigos 170, VI e 225 da CF/88): O modelo atual não garante que todos os agentes emissores contribuam proporcionalmente para a redução de GEE, concentrando as metas exclusivamente nos distribuidores, o que viola o princípio de responsabilizar o poluidor.
4. Impacto no setor agrícola: As penalidades e o consequente aumento no custo dos combustíveis impactam diretamente a atividade do produtor rural. Isso se manifesta em:
– Aumento do custo para plantio e colheita, dado o uso intensivo de máquinas e veículos, afetando também a pecuária.
– Concentração do mercado de combustíveis, restringindo a concorrência e tornando a aquisição de insumos mais onerosa.
– Possível escassez de insumos (cana-de-açúcar e milho) para a produção de biocombustíveis.
– Aumento do valor do frete para escoamento da produção agrícola, resultando em menor valor recebido pelo produtor rural e impacto no preço final ao consumidor.
– O aumento do preço dos grãos, impulsionado pelo custo do diesel, eleva o valor de produtos pecuários como carne e leite, uma vez que o milho é um insumo essencial na nutrição animal.
5. Ausência de redução de impactos e danos ambientais e o Acordo de Paris: O RenovaBio, tal como implementado, não tem cumprido o objetivo de redução de GEE e expansão dos biocombustíveis, levando, inclusive, a um aumento no consumo de combustíveis fósseis. O Emissions Gap Report 2024 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) aponta que o Brasil manteve o crescimento de suas emissões, com projeção de não cumprimento de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) para 2030, comprometendo sua credibilidade internacional e violando o princípio constitucional da efetividade da norma ambiental (artigo 225 da CF) e os compromissos do Acordo de Paris.
6. Adicionalidade dos CBIOs: O modelo atual do RenovaBio não comprova a “adicionalidade” real, um pilar central da integridade ambiental nos mecanismos de mercado do Acordo de Paris (art. 6). A ausência de garantia de que as reduções de emissões atribuídas aos biocombustíveis certificados são adicionais às ações já existentes e contribuem efetivamente para as metas de mitigação faz com que o programa crie um mercado financeiro paralelo sem impacto climático adicional concreto, ou o que o PNUMA chama de “ilusão de ambição”.
7. Ausência de Análise de Impacto Regulatório (AIR): A falta de AIR no processo legislativo resultou em uma regulação deficiente, sem diagnósticos prévios e diálogo adequado com o setore, gerando um ambiente normativo desalinhado com a realidade do mercado e inconstitucional.
8. Especulação e aumento de custos: A ausência de regulação do preço dos CBIOs permite a especulação, elevando os custos para a aquisição desses créditos. Esse custo é repassado aos consumidores, podendo gerar acréscimos significativos no preço do diesel e da gasolina. Estudos apontam que o impacto pode ser de R$ 0,14/litro no diesel e R$ 0,12/litro na gasolina.
9. Implicações criminais: O não cumprimento das metas de aquisição de CBIOs pode acarretar graves implicações criminais para as distribuidoras e seus sócios, além de multas administrativas e pecuniárias extremamente elevadas.
10. Incentivo distorcido: Há falta de incentivo à produção de biocombustíveis, pois não existem metas compulsórias para produtores e importadores de biocombustíveis, apenas para os distribuidores, gerando uma transferência indireta de renda que onera desproporcionalmente um único segmento.
Relevância e repercussão social da controvérsia
A matéria discutida na ADI 7.596/DF é de incontestável relevância, especificidade e repercussão social. O tema constitucional transcende os interesses individuais das partes, afetando um número expressivo de produtores rurais de cana-de-açúcar e biodiesel, distribuidores de combustível, e, em última instância, toda a cadeia de consumo e o consumidor final.
A concentração de sessenta e uma distribuidoras inadimplentes em janeiro de 2025 referente às metas de 2024, e o fato de que apenas as três maiores distribuidoras atingiram 100% de suas metas de CBIOs para 2024 (enquanto representam apenas 50% da meta total), ilustram a gravidade do cenário. A soma das metas não cumpridas pelas distribuidoras para 2025 agrava ainda mais a situação. Esse panorama levará à restrição da concorrência e ao controle de preços por um oligopólio.
Além disso, a concentração das vendas das três maiores distribuidoras na região Sudeste, enquanto a maior produção agrícola e pecuária se encontra em regiões menos atendidas, revela que médias e pequenas distribuidoras são essenciais para o abastecimento de combustível para o agronegócio. A proibição de comercialização para essas distribuidoras pode gerar desabastecimento nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, impactando diretamente os produtores rurais.
A perda de 50% da concorrência no mercado não apenas elevará os preços dos combustíveis para o consumidor final, mas também impactará negativamente o preço do etanol e do biocombustível. A drástica queda na procura, caso 50% do mercado seja proibido de adquirir esses produtos, pode levar à falência de produtores e à perda de empregos.
Conclusão
Diante desse cenário complexo e das graves distorções regulatórias, econômicas e sociais, torna-se imperativa a análise aprofundada da constitucionalidade das medidas impostas pela Lei nº 13.576/2017 e atos normativos subsequentes pelo Supremo Tribunal Federal. É fundamental que a política energética nacional seja conduzida de forma equitativa, eficaz e alinhada aos princípios constitucionais e aos compromissos internacionais do Brasil. A decisão proferida na ADI, sob relatoria do Ministro Nunes Marques, influenciará diretamente a viabilidade econômica de diversos setores, a segurança jurídica, a estabilidade de preços, a livre concorrência e a capacidade do país de cumprir suas metas climáticas de forma íntegra e socialmente justa.
É consabido que a segurança jurídica é elemento fundamental do Estado Democrático de Direito, pois a segurança lhe é imprescindível [1]; além de ser atributo próprio e impulsionadora de justiça, no âmbito do constitucionalismo democrático [2]. No entanto, ela “não pode ser apenas formal, apresentada como relativa previsibilidade do direito associada com a rápida solução dos conflitos, mas também substancial, ou seja, representar a legítima expectativa de que o poder judiciário não se furtará à análise de lesão ou ameaça a direito bem como de que este acompanhará a evolução social e histórica na compreensão desses direitos …” [3].
[1] VASCONCELOS, Antonio Gomes de; BRAGA, Renê Morais da Costa. O conceito de segurança jurídica no Estado democrático de direito.
[2] CASALI, Guilherme Machado. Sobre o conceito de Segurança Jurídica. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, p. 6.271.
[3] ALMEIDA, João Alberto de; BRITO, Thiago Carlos de Souza. O princípio da segurança jurídica e suas implicações na relativização da coisa julgada. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 65, p. 187, 2010.
Este artigo foi escrito por João Grandino Rodas, presidente e coordenador da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social (Cedes) e Sócio do Grandino Rodas Advogados. Desembargador Federal aposentado do TRF-3 e ex-reitor da USP. Professor Titular da Faculdade de Direito da USP, da qual foi diretor, mestre em Direito pela Harvard Law School, mestre em Diplomacia pela The Fletcher School e Mestre em Ciências Político-Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Publicado originalmente aqui.